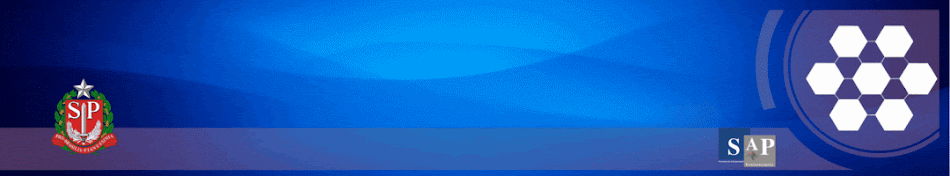Com: Drauzio Varella
Estudei medicina na Faculdade de Medicina da USP. No início dos anos 1970, comecei a trabalhar na área de moléstias infecciosas do Hospital do Servidor Público e, durante 20 anos, dirigi também o serviço de imunologia do Hospital do Câncer. Porém, eu queria mostrar para as pessoas como se disseminava a AIDS e assim participei da produção de um vídeo sobre o tema. A partir daí, pensei em realizar esse trabalho também com os presos, já que em meio a esta população havia uma disseminação de AIDS desconhecida naquela época. Cheguei à Casa de Detenção em maio de 1989, o diretor era o Dr. Ismael Pedrosa; conversei com ele, expliquei o que eu queria fazer e que poderíamos desenvolver um projeto para identificar os soropositivos na unidade. Naquela época, a unidade abrigava uma quantidade absurda de presos que, contando hoje, parece mentira! Um dia normal no Pavilhão 8 contava com 1.300, 1.400 presos reincidentes e, no plantão, estavam de plantão cinco ou seis funcionários.Assim, iniciamos o trabalho para identificar o vírus na população carcerária junto com dois colegas, um deles era meu irmão, que também era médico e faleceu pouco tempo depois. Quem colhia sangue dos presos eram os próprios presos e os pacientes também respondiam a um questionário. Nós colhemos sangue de todos aqueles que recebiam visitas íntimas e, entre os 1.492 presos que permitiram a coleta de sangue, encontramos 17,3% soropositivos. Imaginem que na época a Casa de Detenção contava com mais de 7 mil presos e 17,3% dos 20% testados eram infectados. Se extrapolarmos este número para a população inteira, 17% dos 7.000 somaria um total de 1.200 presos infectados à época. Veja a responsabilidade: naquela época, as mulheres, namoradas, esposas e amantes dos presos faziam visita íntima sem nenhum tipo de orientação, sem preservativo, nada, correndo grande risco de se infectarem sem a menor desconfiança. Ao perceber essa realidade, entendi que algo deveria ser feito, pois não é possível admitir uma situação destas.
Então, iniciamos a apresentação de palestras e filmes no Pavilhão 6, onde ficava o cinema. Lá falávamos de drogas, preservativos e o perigo que era a droga injetável, já que esse tipo de vício poderia levar à contaminação do preso e de toda sua família. Participamos também da criação de uma revista em quadrinhos, “O Vira-Lata”. E, com o tempo, conseguimos alguma conscientização e o “baque na veia” foi substituído pelo crack, que também é um vício devastador, porém, ao menos não transmite AIDS. O “baque na veia” acabou na Casa de Detenção e, por isso, também acabou na periferia de São Paulo, porque tudo começa na cadeia; é a cadeia que reverbera grande parte dos comportamentos aos quais adere à população periférica. As gírias também são assim. Os meninos de classe média começam a falar gírias depois que a gente já as ouviu na cadeia cinco, dez anos antes. Interessante, porque cada preso vem de um canto da cidade, reúnem-se todos na cadeia, e ali é que a gíria reverbera. Depois saem de lá e cada um volta para o lugar de onde veio, espalhando essas gírias. E quantas outras gírias que eu vi nascer na cadeia! Por exemplo, quando se diz que tal coisa “tá no pente”, que quer dizer que tal coisa está pronta, isso é gíria de cadeia. Tive muitas experiências na unidade, mas tenho consciência que meu trabalho é uma gota d’água no oceano, uma pequena ajuda, mas não acho que isso tenha qualquer impacto. Talvez o impacto tenha acontecido com a questão da droga injetável, algo que desapareceu das cadeias e, em seguida, também da periferia.